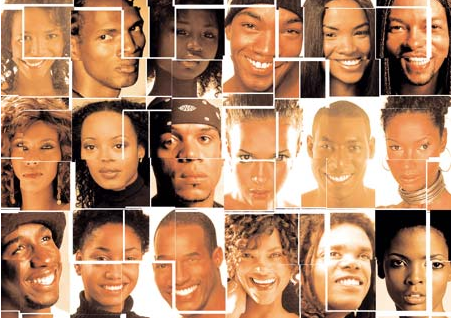Cotas raciais em universidades ainda geram polêmica
BRASÍLIA – Em 1998, Arivaldo Lima Alves, estudante do curso de doutorado do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (UnB), foi reprovado em uma disciplina obrigatória. O primeiro caso em 20 anos de existência daquele programa de pós-graduação. Dois anos após a reprovação, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão forçou o departamento a rever a menção e Arivaldo foi aprovado.
O episódio, conhecido como “Caso Ari”, estimulou o orientador de Arivaldo, o professor José Jorge de Carvalho, a elaborar no ano seguinte a primeira proposta de cotas, embrião do atual sistema que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal (STF) por ação do partido Democratas.
Onze anos após o episódio, Arivaldo, hoje professor adjunto de antropologia da Universidade Estadual da Bahia, elogia a política de cotas adotada pela Universidade de Brasília (UnB) em entrevista à Agência Brasil.
Agência Brasil: O que você acha da política de cotas da UnB?
Arivaldo Lima Alves: É o primeiro programa entre as universidades públicas brasileiras que reserva vagas para negros e índios. Só por isso já tem uma grande importância. A partir do momento em que a Universidade de Brasília, uma universidade pública federal, decide adotar esse programa, várias outras universidades tomam a mesma iniciativa e têm a universidade como referência. É um programa importante e que veio atender a uma demanda social histórica.
ABr: A política de cotas existe há seis anos. Por que ela causa debate até hoje?
Arivaldo: Desde o final do século 19 e início do século 20, a sociedade brasileira, em especial as elites, vem elaborando um projeto de identidade nacional e de povo. Nesse projeto, não cabia apontar e afirmar a identidade indígena e, muito menos, a identidade negra. Sabemos que de 1880 a 1930, o Brasil aprovou uma política imigratória que permitiu a absorção de quase quatro milhões de imigrantes brancos europeus. Em 300 anos de escravidão, mais ou menos esse contingente de africanos foi trazido forçadamente para o Brasil. Havia um projeto de “embranquecimento”. Depois disso, pouco a pouco, o País passa a se definir como nação mestiça. Na medida em que é aprovado um programa de reserva de vagas na universidade pública, no mercado de trabalho para negros e índios, esses projetos de nação são contestados. Se é afirmado que não existem apenas brancos e mestiços, mas também negros e índios, é preciso levar em consideração demandas específicas. O Brasil aboliu a escravidão, mas não adotou nenhuma política pública para os ex-escravos ou para os descendentes de africanos que nos anos seguintes construíram a nação brasileira, mas não tiveram nenhum retorno material da contribuição que deram. Quando se adota um programa de cotas, cria-se a possibilidade de que um segmento importante da população, cerca de 80% no caso da Bahia, exija acesso aos resultados da produção da riqueza, posições de prestígio, privilégios como participação na universidade brasileira e até postos de representação política. A Bahia nunca teve um governador negro ou Salvador um prefeito negro. Isso é um escândalo muito sintomático.
ABr: Como você vê o questionamento da política de cotas da UnB feita no STF pelo Democratas?
Arivaldo: Não me espanta. Vejo com uma certa naturalidade. Se o Democratas, que sempre representou os interesses hegemônicos na sociedade brasileira, fosse a favor das políticas de cotas, seria algo estranho. É natural que o partido reaja. Já ouvi senador democrata afirmando que o problema racial não existe entre nós. É um tipo de afirmação que contesta dados oficiais como os do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que mostram que o acesso ao emprego e a condições dignas de educação é diferenciado em relação a brancos e negros.
ABr: Há quem conteste as políticas de cota racial reconhecendo que a desigualdade existe, mas é de classe e não de raça ou cor e, portanto, uma política de cota social seria mais objetiva, eficiente e mais justa. Esse argumento é falho?
Arivaldo: Aqueles que discordam das ações afirmativas para negros partem do princípio de que quem defende a política, como eu, acredita que exista a biologia das raças, a natureza das raças. Esse tipo de compreensão já caiu por terra desde a 2ª Guerra Mundial, que exterminou judeus, negros, ciganos, homossexuais, ou seja, todos aqueles que eram considerados uma certa degeneração da humanidade. Para nós, a raça existe a partir de uma compreensão do negro socialmente. Defender cotas para negros é também defender vagas para aqueles que socialmente existem como tal. Eu não acredito que exista o negro como biologia, como raça. Mas a história social do negro neste País, o modo como ele vive, o espaço onde ele está alocado nas grandes cidades, a representação que é feita dele nos meios de comunicação, na literatura ou no livro didático só evidenciam que o negro, a rigor, não está em uma biologia das raças, mas é uma representação, uma constituição do mesmo. Então, defender cotas para negros é defender cotas sociais.
ABr: Você acha que na universidade brasileira há racismo?
Arivaldo: Não tenho nenhuma dúvida disso. Basta ver a trajetória de alguns intelectuais negros. O Brasil os tem desde a primeira metade do século 20, mas, se formos ver os anais da história, poucos tiveram destaque. Um dos poucos que tiveram destaque foi o geógrafo Milton Santos, mas porque tinha um brilho excepcional e um tipo de trajetória dos negros que se destacam quando têm uma inteligência muito acima da média. Mas só se destaca um ou outro indivíduo, não um grupo social como um todo.
ABr: Precisa ser brilhante?
Arivaldo: Mais do que brilhante, acima da média. Entre os brancos, se destacam os brilhantes e os que não são tão brilhantes assim, mas que conseguem se adequar a uma certa expectativa ou reproduzir um certo modo de parecer ser brilhante.
ABr: Passados 11 anos do “Caso Ari” no Departamento de Antropologia da UnB, como avalia aquela situação?
Arivaldo: Foi uma experiência muito dolorosa que marcou minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional. A partir dali, eu redefini meu projeto pessoal e de inserção acadêmica. Essa obrigação de redefinir projetos trouxe certo desconforto.
De outro ponto de vista, diria que não apenas eu, mas aqueles que estiveram do meu lado foram vitoriosos. Uma questão que parecia ser de ordem pessoal ia ganhar a dimensão que teve e ia ter como resposta medidas que não beneficiariam diretamente a mim, mas um segmento que há séculos vem sendo abandonado e maltratado. Apesar da dor e dificuldade que eu particularmente tive, foi algo importante.
Eu passei a compreender o que é a trajetória intelectual de um negro no Brasil, passei a entender de outra maneira o establishment da universidade pública brasileira e compreender como a ciência e a antropologia podiam me ajudar a compreender a minha realidade, a minha condição de pesquisador e de cidadão.
Agência Brasil